Página 161 da publicação
A música no Ceará vem de longe. Estava nas festas e cerimoniais dos nativos e entrou em permanente transformação com a chegada dos colonizadores, que trouxeram novos instrumentos, outros sentimentos, mais conflitos e razões para o cantar. Uma coisa foi acrescentando outra, remexendo oralidade e musicalidade, repercutindo os sons da natureza, o canto dos pássaros, a fala dos bichos, o bisbilhar dos riachos, o tac-tec das lutas e a sonoridade dos maracás, dos tambores, das rabecas e de outros instrumentos que ainda hoje são tocados por bandas, como a cabaçal do Irmãos Anicete e a cenomusical Dona Zefinha.

A Banda Cabaçal dos Irmãos Anicete sintetiza a musicalidade dos cariris, com suas onomatopéias da natureza e gestos do cotidiano da vida rural. Foto de apresentação no CUCA Chê Guevara, na Barra do Ceará, em Fortaleza (2011).
Neste pequeno ensaio-memorial, abordo livremente questões dessa musicalidade, que vem dos nossos ancestrais e que está na alma da cearensidade, desde a alegria até o mau agouro. Um cearense sempre encontra razões para cantar, dando sentido a necessidades, desejos, aspirações e a toda sorte de sentimentos. No Ceará, o som faz parte de tudo aquilo com que se sonha, do que se faz, do que se sente. É uma linguagem, um modo de comunicação, de aproximação, de envolvimento individual e grupal. Com suas metáforas de vocabulário sonoro, essa linguagem nos vincula com o espaço e o tempo por meio de uma narrativa diversificada e plural.
Tudo leva um cearense a gostar de música, a cantar, a compor. Mais do que adversa, humoral e festiva, a vida é som no Ceará. Somos uma gente musical, de inteligência musical, embora nem sempre nos demos conta disso. Durante o dia, fomos e somos guerreiros, vaqueiros, agricultores, comerciantes e, à noite, tocadores de viola, cantadores, recitadores de poesia; sem contar com o aboio, a mania de assobiar, as cantigas de campo, cantigas de feira, de missa, de roda, de dor de cotovelo e de ninar. Esse é um patrimônio cultural ainda pouco otimizado no seu caráter múltiplo e coletivo pelos poderes públicos e pela iniciativa privada, como fonte renovável de benefício social e econômico.

Maestro Gladson Carvalho, que defende a música como um instrumento de refino social, em show de lançamento do LP “América”, da cantora Olga Ribeiro. Parque do Cocó, 1982.
O maestro Gladson Carvalho, criador e regente da Orquestra Filarmônica do Ceará, comentou comigo certa vez que, na sua experiência de aluno do maestro cearense Eleazar de Carvalho (1912 – 1996) e de organizador e dinamizador de orquestras no Ceará e na Paraíba, sempre observou com agradável surpresa o tanto que a música é um grande instrumento de refino do ser social. E desafiou-me a evocar alguma manchete de jornal que expressasse algo como “Trombonista matou a mulher”, “Violinista assaltou um banco”, “Cantora participa de sequestro”. Depois disso fiquei pensando na relação que pode existir entre o aumento da violência e a redução das nossas oportunidades de acesso à música no nosso cotidiano.
Página 162 da publicação
O senso de pertença na cearensidade vem da vida nômade, por isso somos plurais e precisamos de sons para ordenar a nossa experiência, para dar sentido à pessoa, à comunidade e aos acontecimentos. Não interessa se o sanfonar veio ou vem do Luizinho Calixto, do Waldonys, do Adelson Viana, do Alves Nascimento, do Edson Távora, da dupla Ítalo e Renno ou dos foles perdidos nos palcos das bandas sem alma dos empresários de festa; o que vale é estarmos socialmente tecidos por um fio da música, nos mais variados estilos, gêneros, ritmos e temas. Infelizmente, por força de interesses hegemônicos de pequenos grupos associados ao mercado e ao poder, essa ignorância foi generalizada e a música do Ceará é pouco percebida na sua variedade sinérgica e integradora. Aliás, a imagem de crianças no interior tocando sanfona é um símbolo da nossa cultura que ainda não monumentalizamos.

A banda Dona Zefinha, de Itapipoca, desenvolve inovadores trabalhos cenomusicais com forte essência da ancestralidade nativa cearense, como no espetáculo “Zefinha foi à feira”, apresentado no Centro de Convenções do Ceará. Foto de Alex Hermes (2008).
Houve quem não gostasse da visibilidade que se foi engendrando com as ações do Fórum; quem visse na nossa proposta uma ameaça ao monopólio da música triste, do canto sofrido, da arte da depressão. E, lamentavelmente, muitos dos nossos músicos, compositores e cantores seguem essa lenga-lenga e querem ser aceitos pelos arquitetos dessa redução do olhar sobre o Ceará da musica plural. Um dia, pensando nesse paradoxo entre o peso da mesmice nostálgica e o espírito flutuante da musicalidade cearense, e após ler o ensaio Sobre a brevidade da vida, do filósofo Sêneca (4aC – 65), compus um tecnorapxote de exaltação à purificação da cearensidade pela música e pela dança, intitulado Xote para Sêneca, como resposta a esse estúpido fechamento estético.

Maestro Edson Távora em foto de divulgação do Projeto “Sexta com Arte” do Sindicato dos Jornalistas do Ceará, em 1996.
Como em outros trabalhos de experimentos musicais que fiz, procurei deixar claro que acredito na multiplicidade das fontes e das formas fundantes da nossa música e sua capacidade de ser mais do que música: “O xote é movimento / Fluindo sem parar / Uma sabedoria / Que sacode o Ceará”. O Xote para Sêneca foi gravado no CD Terra do Nunca – Flávio Paiva por Anna Torres e Paulo Lepetit (Plural de Cultura, 1997), com a participação do rapper Rica Caveman, e no CD da Orquestra de Câmara Jovens solistas do Nordeste e Orquestra Filarmônica do Ceará (Independente, 2005), com interpretação de Carol Damasceno e Hérlon Robson, com regência de Gladson Carvalho. Com direção de Karla Holanda e Otávio Pedro, foi o videoclipe vencedor do Prêmio Dragão do Mar de Cinema e Vídeo/1998.
O bom de ser de um lugar onde a música é tão diversa, e mais do que música, é que as circunstâncias dos nossos cantares nos remetem a nós mesmos, em identificações interligadas por sons. O idioma estético da cearensidade é a música, com seus sotaques e ritmos. Somos
Página 163 da publicação
poliglotas nesse falar sonoro. Não dá para rotular, classificar, segregar. No Ceará não há música típica, nem um tipo de música originalmente prevalecente; há apenas música, como há pessoas e suas experiências pessoais e históricas. Conforme a oportunidade de acesso que temos a essa diversidade e pluralidade, cada cearense vai conferindo forma e significado a si mesmo e à nossa cultura, transformando-se na música que ouve e que toca, sem xenofobia e com orgulho agregador. Compomos e cantarolamos com facilidade porque somos atraídos por música como as abelhas são seduzidas pelas flores.

A busca pela complementaridade de novos olhares e sonoridades levou Flávio Paiva a fazer o CD Terra do Nunca, com a cantora maranhense Anna Torres e o baixista paulista Paulo Lepetit. Na foto, Flávio Paiva e Anna Torres. Imagem de Gentil Barreira (1997).
Nesse percurso, criamos também marcas musicais próprias, como o balanceio, de Aliardo Freitas, Lauro Maia e Danúbio Barbosa, que serviu de base para a criação do baião pelo compositor cearense Humberto Teixeira e pelo cantor pernambucano Luiz Gonzaga. Em Tão fácil tão bom, Lauro Maia deu trato ao ritmo: “Balança o corpo pra lá / Balança o corpo pra cá / Agora dê um pulinho / E diga que sabe, que sabe dançá / O balancêi, balançá / Você já pode ensiná”; Teixeira e Gonzaga abriram novos caminhos com Baião: “Eu vou mostrar pra vocês / Como se dança o baião / E quem quiser aprender / É favor prestar atenção / Morena chega pra cá / Bem junto ao meu coração / Agora é só me seguir / Pois eu vou dançar o baião / Eu já dancei balancê / Xamego, samba e xerém / Mas o baião tem um quê / Que as outras danças não têm”.

Karla Holanda, Otávio Pedro e Flávio Paiva na praia do Titanzinho, onde foi rodado o videoclipe da música “Xote para Sêneca” (Flávio Paiva), vencedor do Prêmio Dragão do Mar de Cinema e Vídeo/1998, com direção de Karla Holanda e Otávio Pedro. Foto de Dário Gabriel (1998).
Não fosse a política urbanizadora da era Juscelino Kubitscheck (presidente entre 1956 e 1961), que priorizou a bossa nova como símbolo de exportação de um Brasil moderno, o baião, que nasceu no Iguatu, teria uma presença internacional do nível do reggae. Em 1994, o compositor Calé Alencar e eu tentamos retomar essa questão, propondo uma nova versão de balanceio, e compusemos a música Como me dá, gravada por Armando Telles no meu CD Rolimã: “Danço reggae / danço samba / Danço roque e baião / Danço frevo e merengue / Gosto mesmo é de dançar / Mas tem um tal de Balanceio / Que parece brincadeira / Mexe aqui, mexe acolá / Vai mexendo sem parar / Como é bom, como me dá / Mais vontade de dançar / Eu vou até de manhã / Só nesse balancear / Como é bom como me dá / Mais vontade de dançar”. Para fazer a liga com o original utilizamos o recurso de metacanção com a música Eu vou até de manhã, de Lauro Maia, sucesso de 1945 no canto dos 4 Ases & 1 Curinga.

Armando Telles gravou a música “Como me dá” (Calé Alencar / Flávio Paiva), um experimento de balanceio na tentativa de descobrir uma marca musical para o Ceará. Foto de Flávio Paiva (1994).
Em situação normal, nossa mente musical se entrega às emoções e aos sentimentos mais distintos e surpreendentes. Lembranças, projeções e ideias chegam à nossa música sempre com a impressão de familiaridade de algo que nela se expressa. Ter um horizonte para estender o olhar é uma necessidade da nossa alma, embora seja também uma maneira de ter mais espaço para ouvir o trinado dos pássaros, o cricrilar dos grilos, o farfalhar das folhas das árvores, o sussurro dos ventos e o marulhar das ondas. Tudo “de ouvido”, como se diz; tudo como eco da oralidade formadora da nossa cultura aberta. Para entender do que estou falando, basta ler o verso em que a compositora e cantora Mona Gadêlha conta da reação de um amigo ao ser advertido por estar naturalmente de olho em outro rapaz: “Ele me deu um carão” (Cinema Noir, 1996). Difícil imaginar a palavra “carão”, no sentido de repreender, em um rock não cearense; mas está aí, porque No Ceará é assim, como diz a composição de Carlos Barroso, sucesso silencioso e atemporal do grupo 4 Ases e 1 Coringa, desde 1941.

Mona Gadêlha abriu no Ceará uma nova trilha para o rock e o pop, com composições originais. Na foto, a cantora gravando “Bolha”, de Flávio Paiva, que também registrou o momento (1994).
Talvez esse caráter da música, como base para o jeito de ser de uma gente, merecesse um estudo antropológico. A ligação sonora entre o que fomos, o que somos e o que seremos quebra a estrutura da hipótese de nexo da narrativa dominante. O Ceará da música plural constitui-se de pedaços de emoções sentidas,
Página 164 da publicação
tocadas e cantadas, de acordo com os fatos pessoais e coletivos do nosso misto de etnias, lastreado no gênio insurgente da nossa herança tapuia. Em seu livro Auxílio Luxuoso (Annablume, 2003, p.152), Wander Nunes Frota menciona várias fontes que indicam, por exemplo, que o samba era uma festa popular de origem ameríndia, como deduziu o pesquisador e escritor sergipano Sílvio Romero (1851 – 1914). Na canção Vive Seu Mané Chorando, Luiz Assumpção (1902 – 1987) fala de alguém que perdeu a mulher, depois de ela ter ido a uma festa em Mucuripe: “A Maria foi pro samba e sambando lá ficou” (1955).

Luiz Assumpção registrou em “Vive seu Mané Chorando” a palavra “samba” com o sentido de festa, usado no Ceará desde os povos indígenas. Na foto, o pesquisador Nirez e seu filho Otacílio de Azevedo colhem depoimento do artista (1974).
A musicalidade é um atributo da cearensidade que pode ser encontrado no sertão, no litoral e na serra. O jornalista cearense Pablo Assumpção Barros da Costa registrou em seu livro Anicete – quando os índios dançam (UFC, 1999), a propensão natural dos nossos ancestrais para o canto, a dança ou o mero assobio, em eventos de caráter medicinal, religioso e de prazer. Revela que quase tudo era motivo para música entre os cariris. “Era um povo que não fazia muita distinção entre a louvação sagrada e o gozo: os rituais místicos tinham caráter de regozijo e as festas de comemoração, seja pelo nascimento de um bebê, seja pela abundância na caça, eram igualmente sagradas” (p. 38). As bandas cabaçais, como a dos Irmãos Anicete, do Crato, com seus pífaros, caixas e zabumbas, refletem bem a essência dessas manifestações. Na Serra Grande (Ibiapaba), o som dos pífaros ecoa no toque gingado de um duende franco-tabajara, chamado Alfredo Miranda, que vive encantado em Viçosa do Ceará.

O rapper Erivan e a cantora Marta Aurélia ressignificam a canção tremembé “Agua de Mani” em apresentação do show “Minha Alma”, no BNB Clube Foto de Fernanda Oliveira (2009).
Enquanto o samba dos cariris fazia parte do ritual culinário de cozimento do cágado (sâmbà), no litoral os tremembés dançavam o torém para comemorar a colheita do caju, na qual bebiam cuias e mais cuias de mocororó (aguardente fermentada de caju) ao som de maracá (aguaim). “A primeira descrição conhecida da dança do torém pertence ao Padre Antônio Tomás, feita por ocasião de sua visita pastoral a Almofala, Ceará, em 1892. Juvenal Galeno registrara a palavra em suas Lendas e Canções Populares, como instrumento musical e dança”, escreveu o pesquisador cearense Aloysio de Alencar Pinto (1911 – 2007), coordenador da pesquisa que resultou no “Torém/Ceará – Documentário sonoro do folclore brasileiro nº 30” (Funarte/MEC, 1975). A atriz, compositora e cantora Marta Aurélia inclui em suas apresentações a composição Agua de Mani, uma das mais conhecidas do repertório remanescente dessa dança tremembé de roda e de terreiro.

No alto da Serra da Ibiapaba, a paisagem serena de Viçosa do Ceará é embalada pelo canto alegre do pífaro encantado de Alfredo Miranda. Foto de Flávio Paiva (1995).
No maciço do Baturité, os jenipapos-canindés também se valeram da música como companheira de sentido e seu mais destacado representante foi o cantor Xerém (1911 – 1979). E foi com um misto de trupe e grupo regional, apoiado em violão, cavaco, gaita, cuíca, pandeiro e vocal, que Pedro de Alcântara, o Xerém, gravou com a sua irmã Tapuia (Nadir Alcântara) o choro sertanejo Forró na roça (1937), parceria com Manoel Queiroz, que dá nome ao disco identificado pelo pesquisador Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez), como o primeiro a constar no título a palavra “forró”.
Página 165 da publicação
Parceiro de outros artistas consagrados como Capitão Furtado e Zé Trindade, com composições gravadas por nomes como Aracy de Almeida e pela dupla Alvarenga e Ranchinho, Xerém tem lugar destacado na nossa galeria da música plural. Sua neta paulistana, Cris Aflalo, recuperou alguns de seus sucessos no disco Só Xerém (2003), produzido em parceria com o guitarrista Luiz Waack, com direito a participação especial de Hermeto Pascoal. Cris foi no fundo do baú do avô e lançou três inéditas: a bem-humorada Pisa no Pilão, Alegria comigo mora, que tem Oswaldinho do Acordeon, e Raymunda Patuá, na qual a cantora preserva a estética de ruídos da bicharia, presente na música autóctone cearense e nos programas de rádio feitos por Xerém.

O cantor Xerém foi o primeiro brasileiro a utilizar a palavra “Forró” em uma gravação, dentro do significado de “festa” integrada por variados ritmos do cancioneiro nordestino. Em 2003, sua neta paulistana Cris Aflalo gravou o CD Só Xerém. Foto de Paulo Guimarães (2005)
O repertório das preciosidades musicais que cantam as particularidades da vida cearense e sua integração com outras gentes, revelando a nossa multifacetada visão de mundo, tem na poética oral do cordel, do repente, do coco e da embolada uma marca muito forte. O registro de mais de uma centena de rabequeiros, feita em quarenta e poucos municípios do Ceará, pelo pesquisador Gilmar de Carvalho e pelo fotógrafo Francisco Sousa (Rabecas do Ceará, editado pelo Laboratório de Estudos da Oralidade da UFC, 2006), demonstra o quanto essa sonoridade da tradição persa está viva pelo sertão, embora não seja mais a preferida nas animações de sambas, forrós, cerimônias de casamento e comícios eleitorais. Encantado com essa travessia invisível das rabecas, escrevi na minha coluna semanal que “o rabequeiro, ao lado do repentista, do cantador e do violeiro, integra uma força cultural milenar que foi transplantada da península ibérica para o nordeste brasileiro onde vicejou quase sempre na marginalidade. O tocador de rabeca e a arte de poetizar tangendo o instrumento mistura arabidade, ibericidade e nordestinidade na formação das essências sonoras brasileiras” (Diário do Nordeste, 11/11/2008).

Cego Oliveira toca rabeca para Flávio Paiva, após entrevista em sua casa no sítio Cipó, interior de Juazeiro do Padre Cícero. Foto de Jorge Henrique (1986).
Quando eu trabalhava como repórter no jornal O Povo, tive a satisfação de acompanhar de perto as atividades do Cego Oliveira (1912 – 1997) na feira de Juazeiro do Padre Cícero e na casinha no sítio Cipó, onde ele morava. Na reportagem que fiz com ele (Cego Oliveira e o despertar da imposição, O Povo, Segundo Caderno, pp. 4 e 5, 19/10/1986), compartilhei a sua angústia de ser parte de um veio cultural que parecia secar. Dentro dele, porém, pulsavam arquétipos de historicidade cheios de vigor. Lembro-me de que, extrarreportagem, perguntei a ele qual a cantiga mais remota das suas recordações e ele cantarolou uns versos soltos, anônimos e cheios de significados, que depois organizei com o título Serenata, em uma adaptação gravada com ornamentação vocal do brilhante tenor cearense André Vidal, no meu CD Rolimã (Cameratti, São Paulo, 1994): “Minha gente eu vim de longe / somente a passear (…) eu sou filho da Europa (…) quando o navio atracou / saltei logo do vapor / aqui estou eu”. Esse tipo de trama foi reforçando em mim o sentimento da pluralidade evidente em nossa música. Tanto que, neste caso, dediquei a Serenata ao prodigioso cantor lírico cearense Paulo Abel (1957 – 1992), que, além de ser múltiplo, foi um rompedor de fronteiras estéticas e geográficas.

O tenor André Vidal interpreta “Serenata”, adaptação do cancioneiro de domínio público, feita por Flávio Paiva e dedicada ao cantor lírico Paulo Abel do Nascimento. Foto de Aline Monteiro (1994).
A pluralidade musical compõe a metanarrativa da cearensidade na sua mais larga e múltipla dimensão de beleza. Está nos aboios dos vaqueiros, nas violas e violeiros do ciclo do gado e do algodão (séculos XVII a XIX); nos autos populares, nas quadrilhas juninas, cada vez mais renovadas no interior e na Capital, nas tiradas de coco de roda, com seus cantos de embolada ritmados com palmas, ganzá e caixão de madeira percutida à base de conchas; na influência das matrizes africanas, no jeito caboclo de fazer cortejo de maracatu, no glamour vocal de Ivanilde Rodrigues, Marilena Romero, Maria Guilhermina e outras rainhas do rádio cearense, nos forroboxotes e baiões cratenses de Xico Bizerra, no Sax Blues, de Fernando Néri e Eurico Bivar, no piano que vira até pandeiro de Antônio José Forte, no canto esmerado da Aparecida Silvino, no forró de Eliane, na pegada afinada dos
Página 166 da publicação

Ivanilde Rodrigues, uma das rainhas do rádio no Ceará, fazia dupla com Alan Neto, com o pseudônimo de Rouxinol e Bem-te-vi.
irmãos Régis e Rogério, no som pop-digital de Marcus Caffé, no dueto apaixonado de Ayla Maria e Raimundo Arraes e no instrumental leve e faceiro da banda Fulô de Araçá (Bárbara Sena, Brenna Freire, Clarissa Brasil, Cris Soares, Lídia Maria e Marília Magalhães).
Combinado dessa forma solta e sem arbitrar estilos, tempos, cantares e contextos diferentes, o decurso de ressignificação da nossa força musical apresenta também sua alma carnavalesca e de afoxé. Muitas das músicas, das loas e da inovações rítmicas que nasceram nas ruas de Fortaleza, na animação dos blocos, das escolas de samba e dos maracatus passam por criações de mestres e brincantes populares e de destacados artistas, tais como Lauro Maia, Luiz Assumpção, Raimundo Boca Aberta, Geraldo Barbosa, Descarte Gadêlha, Ednardo, Calé Alencar, Cleide Pinheiro, Aluísio Silva, Cláudio Correia, Dilson Pinheiro, Stélio Valle e Pingo de Fortaleza. Da primeira metade do século XX ao início do século XXI, do bloco Prova de Fogo ao bloco Num Ispaia Sinão Ienche, a capital do Ceará teima em construir suas identificações foliãs; se não no Carnaval, pelo menos na espontaneidade divertida do Pré-Carnaval.

Dilson Pinheiro, artista múltiplo, apresentador de televisão e carnavalesco destacado na construção da identidade foliã cearense (Foto de arquivo do artista).
Sempre que posso vou à avenida Domingos Olímpio ver os encantadores desfiles dos maracatus. Aliás, costumo fazer isso desde que os cortejos saiam na avenida Duque de Caxias. Foi lá que vi, pela primeira vez, o compositor Luiz Assumpção. Todo de cartola e ao lado da mulher Isaura, naquele ano de 1979 ele foi destaque da Escola Unidos da Vila. Tempos depois, em 1985, juntamente com as jornalistas Ariadne Araújo e Patrícia Alencar (à época, minhas colegas no Curso de Comunicação Social, da UFC), fizemos, sob a coordenação do professor Godofredo Pereira e com o apoio da então TV Educativa, um documentário com ele, no qual tínhamos Guilherme Neto cantando Pobre Roceira e o próprio Luiz Assumpção cantando e tocando – já com os dedos rijos – Adeus Praia de Iracema. A música tema (Luiz Assumpção – A um carnavalesco na solidão) foi composta por mim e pelo Tarcísio Matos e gravada pela Téti, acompanhada por um regional que tinha o Tarcísio Sardinha, o Expedito 7 Cordas e o Coleguinha do Pandeiro; composição que foi gravada também no meu CD Rolimã, na interpretação do Ricardo Black.

Ricardo Black conquistou o primeiro lugar como intérprete do V Canta Nordeste, o maior festival regional de música do Brasil, realizado pela TV Globo, com a música Latitude, de Flávio Paiva em parceria com Tato Fischer. Na foto de Adelmar Filho, o autor e o intérprete logo após a classificação em Fortaleza, quando se preparavam para vencer a segunda etapa, em São Luiz do Maranhão, e a final em Natal, no Rio Grande do Norte (1995).
Página 167 da publicação
As influências circulares e espiraladas dessas constelações e nebulosas de fragmentos sonoros iluminados ainda está presente nos atuais coletivos musicais, a exemplo dos Comparsas da Vivenda, Panela Discos e Bora! Ceará Autoral Criativo, no teatro e palhaçaria da banda Dona Zefinha, na crônica-rock de Vitoriano, no death metal da banda Obskure (de Germano, Jolson e Amaudson Ximenes), no rap do Costa a Costa, nos chorinhos, sambas e MPB de bar de Paulo Façanha, Serrão, Felipe Cordeiro e Ciribáh Soares, nos arpejos nervosos da descoberta de que “Não adianta esperar pelo futuro”, de Aline Costa, no house e punk da música eletrônica do Montage, de Leo Jucá e Daniel Peixoto, na coexistência do eletrônico com o acústico, em tempos lentos e deleitosa sonoridade do quarteto Jardim das Horas (Laya Lopes, Beto Gibbs, Carlos Gadelha e Raphael Haluli) e em toda a galera da zonavibe cearense em sua extensão além fronteiras.
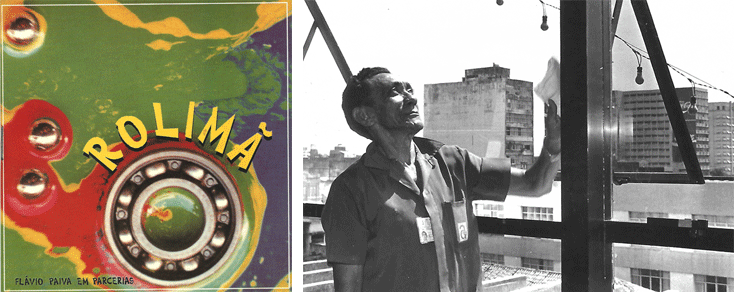
Expedito 7 Cordas era zelador no edifício sede do Banco do Nordeste, na Praça Murilo Borges e, depois do expediente, integrava o “Cadência do Choro”, regional que acompanhou a cantora Téti na gravação da música tema do documentário “Luiz Assumpção”. Foto de Maria Rosa (1986). A música tema desses vídeo foi gravada por Ricardo Black no CD Rolimã (1994).
Não vê, não ouve, não percebe quem não quer, quem por egoísmo tem medo de perder a hegemonia dos gêneros musicais que domina e quem por falta de acesso não consegue entender a grandeza da nossa música e gozar das suas ofertas de metáforas, sentimentos, emoções e fantasias. Convém realçar a ideia de que essa diversidade e multiplicidade são sedimentadas ao longo de décadas, também com a participação de artistas que adotaram o Ceará como lugar do coração, a exemplo dos maranhenses Luiz Assumpção, autor de clássicos do nosso cancioneiro, como Siá Mariquinha e Adeus Praia de Iracema, e do compositor Catulo da Paixão Cearense (1863 – 1946), que, com saudades dos tempos em que morou em Maranguape, compôs, em parceria com João Pernambuco, a antológica Luar do Sertão (1914). Em tempos mais recentes, o Ceará seguiu adotando novos talentos, como o violonista Tarcísio Sardinha, também maranhense, e o sanfoneiro Adelson Viana, do Piauí.

Vitoriano, ex-Alegoria da Caverna, foi o artista cearense identificado pela cantora paulistana Andréia Dias como destacado nome da cena musical de Fortaleza, com quem compôs “Bandoleiro” para o disco Pelos Trópicos (2012). Na foto de Paulo Winz, registro da participação do artista no Festival BNB da Canção, no anfiteatro do Centro Dragão do Mar (2011).
No período de transição do século XIX para o século XX, a música popular urbana, tendente para a irreverência e a sátira, está bem refletida no imaginário sonoro do pintor Ramos Cotoco (1871 – 1916). No texto de apresentação do CD Cantares bohêmios de Ramos Cotôco (2006), a etnomusicóloca Luciana Giffoni explica como a gaiatice desse boêmio inveterado tematiza o cotidiano da capital cearense:
“Sua música representa a informalidade de uma prática cultural urbana que envolve Fortaleza até hoje, nos bares, nas festas, nas atrações da noite cujo espírito boêmio se mantém” (p. 9 do encarte). O humor fino e a ironia lírica do maxixe Não faz mal traduzem bem a índole satírica da cearensidade: “Dizem que as môças namoram / Com todo e qualquer rapaz, / Tanto na porta da rua / Como na porta de atrás! / Não acredito! é mentira! (…) Contam que algumas casadas / Têm namoros escondidos; / E outras que fazem promessas / Pra que morram os maridos. / Não acredito! é mentira!” E por aí vai tecendo nossa alma musical.

A banda Obskure em gravação de videoclipe nas falésias do Morro Branco, em Beberibe. Foto de Karen Pedregal (2009).
O humor, tanto quanto a música, também integra a alma cearense. E quando esses dois atributos culturais entram em fusão, a molecagem é boa, como no desanuviado disco Bonito, lindo e joiado (1991), do bregastar Falcão, na música Padroeiro do Ceará (1997), do palhaço Tiririca (parceria com N. dos Teclados) e no antológico forrolero A rural (1997), de Neo Pi Neo (Walmyr Rodrigues): “Arrumamalaê, arrumamalaê, Arrumamalaê / A rural rai arribá / Arrumamalaê, arrumamalaê, Arrumamalaê / A rural rai disabá”.

O violonista Tarcísio Sardinha (foto de arquivo do artista), ganhou esse apelido porque desde criança revelou-se um virtuoso das cordas e foi comparado com compositor e violonista paulista, Aníbal Sardinha, o Garoto (1915 – 1955).
É genial essa composição, uma das músicas mais importantes do cancioneiro cearense, pois joga com arquétipos do Ceará profundo, na sua relação com as influências ibérica e moura.
Em Isso é que é forrock (1997), o roqueiro cabra da peste, Beirão, afirma a força candanga de Orós no politicamente incorreto, como em Menina de 12 anos: “Tinha apenas doze anos / quando Lino conheceu / Já transava sexo, drogamento, rock’n’roll / Ela, Lino / Eu e ela / Lino e eu” (Beirão e Zé Nobre).

A sonoridade incomum da sanfona de Adelson Viana incorporou-se fraternalmente à música da cearensidade. Foto de Fávila Correia, para a capa do CD “Da cidade ao Sertão” (2010).
O Ceará moleque e irreverente é parte significativa da nossa música plural, pelo fato de, a cada tempo, tocar literalmente a nossa trajetória de justaposição de identificações e negações, numa curiosa e até muitas vezes contraditória
Página 168 da publicação
cumplicidade social e cultural. Na década de 1980, tivemos esse zigue-zague de palavras e ações representado no som da Banda Pré-Histórica das Moças Donzelas, formada por Lily Alcalay (venezuelana adotada pelo Ceará), Olga Ribeiro, Maira Sales, Gigi Castro, Eliana Olinda e Aurecy Pinheiro. Elas abriram uma nova janela na nossa música com um repertório variado e defendendo uma espirituosa opção pelo sensual, com origem nos segredos da alma feminina.
Para facilitar a expressão do meu olhar sobre o valor dessa banda, recorro a um texto que escrevi à época: “As músicas interpretadas pelas Pré-Históricas seguem uma linha de papagaio enrolada em fio de alta tensão. Varia do tango/brega ao rock pauleira, passando pelo jazz, xaxado e balada” (O ciclo performático das Moças Donzelas, p. 3, Segundo Caderno, O Povo, 25/09/1986). Com elas, a Idade da Pedra rolou, criou limo e está por aí, como tantas outras experiências sufocadas pela mediocridade das nossas estéticas dominantes.

Ramos Cotoco é um dos símbolos da música boêmia e da sátira musical tão presentes no espírito cearense em todas as épocas. Artista plástico e poeta, Raimundo Ramos de Paula Filho ganhou o apelido porque não tinha o braço direito.
De qualquer modo, é importante sabermos que temos essa diversidade inventiva, capaz de nos dar a sensação de que somos parte de algo maior. Às vezes saltamos décadas no escuro, perdemos o nosso tesouro musical de vista, mas isso não quer dizer que ele não existe mais. A boemia da Fortaleza de Ramos Cotoco, por exemplo, atravessou o tempo e aflorou na década de 1960, no Ceará seresteiro de Evaldo Gouveia. Nascido em Iguatu, em 1928, Evaldo passou dos 80 anos fazendo apresentações apaixonadas e apaixonantes. É um dos grandes nomes da nossa música plural. Suas parcerias com o espírito-santense Jair Amorim (1915 – 1993) rendeu mais de 150 sambas-canções abolerados, como Sentimental demais (1964), uma das composições de muito sucesso da dupla, gravadas pelo cantor mineiro Altemar Dutra (1940 – 1983): “Romântico é sonhar / E eu sonho assim / Cantando estas canções / Para quem ama igual a mim / E quem achar alguém / Como eu achei / Verá que é natural / Ficar como eu fiquei / Cada vez mais / Sentimental”.

Capa do CD” Bonito, Lindo e Joiado”. O brega-star Falcão tornou-se a maior referência da música de escracho o Ceará.
A obra de Evaldo Gouveia, cantada por Nelson Gonçalves, Cauby Peixoto, Ângela Maria, Dalva de Oliveira, Maysa, Wilson Simonal, Gal Costa, Maria Bethânia e Julio Iglesias, dentre outros renomados intérpretes, tornou-se um ícone da seresta e continua entre as favoritas dos novos artistas românticos, como a cantora Carol Damasceno, que costuma cantar lindamente suas peças: “Alguém me disse / Que tu andas novamente / De novo amor / Nova paixão toda contente / Conheço bem tuas promessas / Outras ouvi iguais a essas / Este teu jeito de enganar / Conheço bem” (Alguém me disse). Desde que conheci o disco Miss Perfumado (1994), da cantora cabo-verdiana Cesária Évora (1941 – 2011), pensei imediatamente nas músicas de Evaldo Gouveia cantadas por ela, numa conexão internacional de sentimentos, belezas e ritmos. Provoquei o produtor Henilton Menezes a viabilizarmos essa ideia e quase deu certo. Ela aceitou, inclusive a gravar no Ceará, com a condição de que as composições fossem vertidas para o crioulo; mas o suposto patrocinador foi lento e Évora morreu.

O compositor Evaldo Gouveia é um dos grandes ícones da seresta brasileira, gravado por renomados e por jovens intérpretes da música romântica. Foto de divulgação do projeto de comemoração dos seus 80 anos (2011).
Outro cearense de grande sucesso nacional na canção romântica e em músicas de carnaval nas décadas de 1940 e 1950 foi Gilberto Milfont. Ele gravou cerca de uma centena de discos e dividiu participações em shows e gravações memoráveis, como Aquarela do Brasil (Ary Barroso), com Núbia Lafayete. Como cantor, gravou músicas famosas, como As aparências enganam e Castigo (Lupiscínio Rodrigues), Senhora (Orestes Santos e Lourival Faissal), Geremoabo (Joubert de Carvalho), Um falso amor e Pra seu governo (Haroldo Lobo, Milton de Oliveira e Jorge de Castro). Como autor, foi gravado por estrelas da música, como Dick Farney (Esquece) e Elizeth Cardoso (Reverso).
Página 169 da publicação
Na década de 1960, a canção romântica cearense ganhou sensibilidade especial nas composições de Vilamar Damasceno (1946 – 1989), o “inimitável”, com sua pegada de batuque no violão. De tanto tocar no rádio, o Vilamar passou a fazer parte das sonoridades públicas da música cearense. Certo dia, recebi na redação do jornal um telefonema informando que ele estava na miséria e que se não fosse socorrido morreria de cirrose hepática. Ele estava muito fragilizado, mas concordou em passar na minha casa para pegarmos o violão e produzirmos uma foto dele na Beira-Mar. A foto feita pelo João
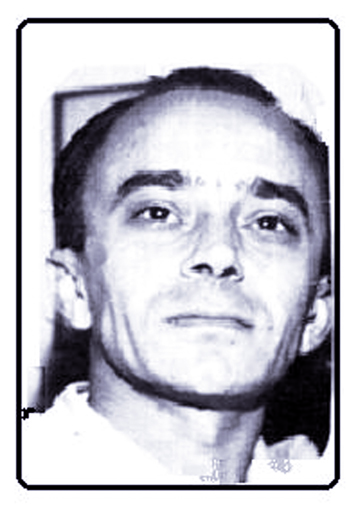
Nas décadas de 1940 e 1950, Gilberto Milfont cruzou as fronteiras do Ceará e alcançou grande prestígio nacional, chegando a gravar cerca de cem discos de canção romântica e músicas de carnaval.
Guimarães saiu na capa, logo abaixo do título: Angustiado, o inimitável já não suporta o abandono (O Povo, 12/04/1986). Por cima da imagem, trechos de Meu lamento um dos seus sucessos: “Praia, ouve o lamento da minha solidão / meu coração já não suporta / não suporta tanto sofrimento”.
Houve uma reação positiva e imediata dos leitores e, por meio de uma ampla campanha que se estendeu pelo rádio e pela televisão, Vilamar foi internado na Clínica de Psiquiatria São Gerardo, em Fortaleza, fato que registrei no texto A resposta dos amigos e admiradores (O Povo, 19/04/1986). O tempo passou e um belo dia ele apareceu na casa onde eu morava, na esquina da rua Adriano Martins com Sargento Hermínio, no Jacarecanga, para me mostrar em primeira mão o LP Adeus ao Trovador (1987). Foi muito emocionante. Por aquela época eu tinha estudado na Casa de Cultura Germânica, da UFC, e estava com a letra da versão alemã de Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá / Antonio Maria).
Ele gostava da interpretação de Agostinho dos Santos (1932 – 1973) para Manhã de Carnaval e começou a tocá-la no meu violão; o mesmo que tinha usado para fazer a foto na praia no ano anterior. Eu cantarolava “Das Glück kam zu mir wie ein Traum, / Musik aus dem endlosen Raum / So wie ein Sonnenstrahl auf zartem Blütentau / im ersten Morgengrau, so war dein Kuß”, algo como uma saudação à sorte que chegou como um sonho; e ele cantava “Manhã tão bonita manhã / Na vida uma nova canção”.

Vilamar Damasceno é um dos principais nomes da música cearense. Ele não precisou deixar o Ceará para ir além das suas fronteiras. Na foto, o “inimitável” observa o mar do Arraial Moura Brasil, em Fortaleza, por ocasião de reportagem de Flávio Paiva. Imagem de João Guimarães (1986).
O nosso encontro rendeu nova matéria para o jornal, intitulada Vilamar sacode a poeira e parte para nova chance (O Povo, Segundo Caderno, p. 3, 3/2/1987). Adeus ao Trovador (Vilamar Damasceno / Suely Fernandes) foi um tributo de Vilamar ao seu ídolo, Altemar Dutra. Na letra, uma estrofe-síntese: “Ele se foi / mas deixou uma herança / a lembrança de lindas canções”. Dois anos depois, Vilamar morreu e, em seguida, Fortaleza ganhou uma rua com o seu nome no bairro de Messejana.
Ao contrário da história de Vilamar Damasceno, que nasceu, viveu e morreu no Ceará, mesmo tendo gravado discos de alcance nacional, temos muitos destaques na costura da nossa música plural, que é feita em pesponto de artistas que deixaram as fronteiras do Ceará. O mais relevante de todos os que saíram para conquistar êxito fora é o compositor e regente Alberto Nepomuceno (1864 – 1920), que, além do seu valioso trabalho, deu uma contribuição conceitual

O compositor e regente Alberto Nepomuceno, considerado o pai da música nacional de concerto, é o mais importante dos artistas da música nascidos no Ceará. No início da avenida que leva o seu nome, uma estátua do maestro, autor do Hino do Ceará, rege a brasilidade a partir de Fortaleza. Foto de Flávio Paiva (2012).
Página 170 da publicação
das mais importantes para a música brasileira, ao defender a ideia de que o Brasil precisava compor e cantar em português. Em sua homenagem, as pianistas Éster Salgado, Nadir Moraes e Branca Rangel criaram, em 1938, o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, atualmente dirigido pela maestrina Mirian Carlos.
Toda vez que penso na pouca importância que os poderes públicos e a iniciativa privada dão à casa do Maestro, penso em uma de suas modinhas: “O meu pobre coração / vale mais que um paraíso / É uma casita ignorada / onde mora o teu sorriso”, diz uma estrofe de Cantigas (Alberto Nepomuceno e Branca Colaço). Nepomuceno tem ainda uma estátua escondida no início da avenida que leva o seu nome, na divisa da Praia de Iracema com o centro histórico de Fortaleza. O campo lírico das modinhas e da música erudita tem na pluralidade cearense — constituída por filhos da terra e acolhidos — um elenco admirável de destacados compositores, instrumentistas, intérpretes e regentes, tais como Antônio Gondim, Beni Carvalho, Branca Rangel, Paurillo Barroso, Alberto Klein, Euclides da Silva Novo, Antônio Gondim, Eleazar de Carvalho, D’Alva Stella, Nízia Diogo, Maria Helena Barreto, Tarcísio José de Lima, Angelita Ribeiro, Liduino Pitombeira e Bia Drummond. No canto coral, nossa saga musical confunde-se, dentre outros, com os nomes Orlando Leite, Katie Lage, Paulo Abel do Nascimento, Izaíra Silvino e Erwin Schrader.

A Orquestra de Câmara Eleazar de Carvalho é uma homenagem ao maestro cearense que, dentre outras atividades, regeu a Orquestra Sinfônica Brasileira, foi diretor artístico e regente das sinfônicas de São Paulo, Porto Alegre, João Pessoa e de St. Louis, Missouri (EUA) e tinha o grande sonho de implantar uma orquestra-escola no Brasil. Na foto de divulgação, a Camerata Eleazar de Carvalho em concerto no Theatro José de Alencar (2011).
Seguindo a referência aos artistas que saíram do Ceará para fazer sucesso nacional, cabe realçar que, na era dos trios, dos cantores do rádio, na primeira metade do século XX, a música plural cearense alcançou grande visibilidade em todo o Brasil, com o Trio Nagô, formado por Evaldo Gouveia, Mário Alves e Epaminondas de Souza. Fenômenos da afinação e da harmonia vocal, o trio cearense tornou-se referência brasileira com sua mescla de bolero com música nordestina. De importância semelhante, tivemos ainda, nas décadas de 1940 e 1950, os Vocalistas Tropicais, conjunto vocal e instrumental integrado pelos cearenses Nilo Mota, Raimundo Jataí, Artur Oliveira, Danúbio Barbosa e pelo percussionista pernambucano Arlindo Borges, que tocava de balanceio a marchinhas carnavalescas.

Compositor de estilo musical caracterizado pelo atonalismo, dissonâncias e sonoridades descritivas, Liduino Pitombeira é Ph.D. em Harmonia e Composição pela Universidade de Louisiana (EUA) e ensina na Universidade Federal de Campina Grande (PB). Em Fortaleza, integrou a Banda Officina, de rock progressivo, o grupo Syntagma, de música antiga (Foto de arquivo do artista).
Todas essas movimentações tiveram muita relevância na construção das condições para a aceitação nacional da nossa música, a partir da indústria cultural instalada no Rio de Janeiro, que era a capital da República até o final da primeira metade do século passado. Entretanto, o ponto de inflexão que abriu as portas do sudeste, não somente para a música cearense, mas para a arte musical nordestina, ocorreu com a inovação rítmica e coreográfica do Baião, que trazia, antes de tudo, uma divisão de tempo diferenciada pelo toque do triângulo e pelo diálogo deste com a sanfona e o zabumba. Formado pelos cearenses Evanor, Permínio e José de Pontes Medeiros, André Batista Vieira e Esdras Guimarães, o famoso grupo 4 Ases e 1 Coringa foi o responsável pelo lançamento, em 1946, do Baião, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Para reforçar a chegada da novidade em um ambiente musical predominantemente dominado pelo bolero, Gonzaga compôs com Zé Dantas (1921 – 1962) o baião A Dança da Moda, que dizia assim: No Rio tá tudo mudado / Nas noites de São João / Em vez de polca e rancheira / O povo só pede e só dança o baião (…) É a dança da moda / Pois em toda a roda / Só pede / Só pede baião”.
Com os negócios concentrados no Rio de Janeiro – que, embora tivesse perdido o posto de capital do País para Brasília, em 1960, continuava sendo a capital cultural do Brasil – as gravadoras multinacionais perceberam na música nordestina um precioso filão a ser explorado. Queriam lançar artistas nordestinos e o Nordeste desceu para lá. Seguindo o mapa da Região, de cima para baixo e da esquerda para a direita, sem considerar ordem
Página 171 da publicação

Os Vocalistas Tropicais tiveram, dentre outros méritos, o de serem os primeiros a repercutir o Baião, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, para todo o Brasil, a partir do Rio de Janeiro, então capital do País.
cronológica de deslocamentos, podemos ver que de todos os estados nordestinos migraram bons artistas para o Sudeste: João do Vale, Alcione e Papete (Maranhão), Torquato Neto (Piauí), Hilton Acioli (Rio Grande do Norte), Zé Ramalho, Elba Ramalho e Vital Farias (Paraíba), Alceu Valença e Geraldo Azevedo (Pernambuco), Djavan (Alagoas), Clemilda (Sergipe), Caetano, Gil, Gal, Bethânia, Capinan, Elomar e Diana Pequeno (Bahia).
O Ceará não poderia ficar de fora e seguiu o rastro do Baião, participando dessa ocupação do cenário musical brasileiro. Na leva de cearenses, destacaram-se mais o Ednardo, com seu elevado talento de compositor e cantor, o Belchior, grande poeta e compositor, e o Raimundo Fagner, cantor destacado por sua agressividade competitiva. Fagner foi lançado com uma canção de Belchior, cuja melodia ele refez (Mucuripe) e contou com a generosidade de Caetano Veloso, que aceitou apresentá-lo no disco de bolso do jornal O Pasquim, em 1972. Em seguida, a gravadora Continental gravou o LP Meu corpo minha embalagem todo gasto na viagem (1973), com Ednardo, Rodger e Téti, espirituosamente apelidado de “Pessoal do Ceará”. E para dar impulso ao comparecimento cearense, que tinha ainda uma diversidade que ia de Amelinha, Petrúcio Maia, Jorge Melo, Cirino, Ângela Linhares e o Grupo Raízes, o Ricardo Bezerra, a Marlui Miranda, Elis Regina (1945 – 1982) incluiu Como nossos pais e Velha roupa colorida, de Belchior, em turnê pelo Brasil, cujo show em Fortaleza eu tive a alegria de assistir no Centro de Convenções do Ceará, e que depois saiu com as duas músicas do compositor cearense no emblemático LP Falso Brilhante (1976).

Ednardo, ao lado de Rodger e Téti, fincou a marca da cearensidade na ebulição musical sudestina do início dos anos 1970, com a bandeira “Pessoal do Ceará”. Na foto de divulgação, o artista em comemoração dos 30 anos do Massafeira Livre, evento que levou aproximadamente quarenta artistas e produtores para gravar um álbum duplo na então gravadora CBS.
Para conseguir superar suas insuficiências como compositor, Raimundo Fagner lançou mão do seu talento de cavador de espaços e se tornou executivo da indústria fonográfica (CBS), podendo interferir efetivamente em projetos de outros artistas e conseguindo isolar-se por um tempo razoável como um dos mais destacados cearenses da música no Brasil. Nesse esforço para se distinguir, usou do recurso de assinar, como se suas fossem, obras de outros autores, o que por um lado catapultou sua carreira e, por outro, o envolveu com reclamações legais de plágio, o que é lamentável. Aproveitou o poder que concentrara para dar vez ao arquiteto Fausto Nilo, seu leal amigo, que na atmosfera produtiva da gravadora passou a ser fornecedor de boas letras para artistas no nível de Geraldo Azevedo, Moraes Moreira, Ivan Lins, Dominguinhos e João Donato, dentre outros. Fausto vendeu os direitos de suas músicas e com isso o mercado cuidou de, ao longo dos anos, orientar vários artistas a gravá-las; nomes como Gal Costa, Elba Ramalho, Simone, a banda A Cor do Som e Zeca Baleiro. Com a tendência de esgotamento do modelo das gravadoras, a dupla Fagner e Fausto Nilo voltou para o Ceará e passou a ter muita influência nas políticas de cultura locais, inclusive em projetos de outros artistas, sobretudo no período mais fechado do governo tucano (de 1987 a 2002).
Página 172 da publicação

O grupo O Peso foi uma das principais expressões do rock brasileiro nos anos 1970 (foto do site letradamusica.net). ERRATA: esta legenda aparece no livro com uma mistura de informações de duas fotos do grupo O Peso. Para precisão de registro, foi feita uma edição no texto, ficando apenas o trecho referente à foto publicada.
É sempre bom lembrar que a cena roqueira cearense também se fez presente na ebulição sudestina dos anos 1970. O grupo O Peso, criado e liderado por Luiz Carlos Porto, fez muito sucesso no Brasil. A banda, integrada por Carlinhos Scart, Constant Paineau, Gabriel O’Meara e Geraldo D’Arbilly, tendo Luiz Carlos no vocal, lançou em 1975 o proustiano LP Em busca do tempo perdido, pela PolyGram. Mesmo não sendo nada fácil brilhar em uma paisagem musical de pop-rock, que tinha Raul Seixas, Secos & Molhados (Ney Matogrosso, João Ricardo e Gerson Conrad), Rita Lee e a banda Tutti Frutti, a música do O Peso, assim como o trabalho dos seus congêneres, O Terço e Casa das Máquinas, conseguiu boa visibilidade no País. Para ilustrar o lugar até onde chegou a banda cearense, basta dizer que no compacto duplo Hit Pop, encartado na revista Pop (1975), O Peso, com a música Não fique triste, dividiu o lado B com a faixa Singing the blues, de Eric Clapton. No lado A, estavam Alice Cooper, com Some Folks, e João Ricardo, com Baby, baby, baby, baby, baby.

O compositor Tiago Araripe agrega artistas do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e São Paulo no grupo Papa Poluição, que fez seu primeiro show paulista no Colégio Rio Branco (1975). Em foto de divulgação da banda, Cid Campos, José Luiz Penna e Paulo Costa (Em pé) e Beto Carrera, Tiago Araripe e Xico Carlos (Agachados).
No início da década de 1980, chegamos a fazer algumas reuniões com o Luiz Carlos e com a cantora Idalina, na casa do poeta Farias Frazão (1950 – 1982), na rua 24 de Maio, quase esquina com Antonio Pompeu, onde funcionava a Cooperativa de Escritores e Poetas (CEP), um coletivo de literatura e música alternativa, do qual eu fazia parte. Ele já estava, no entanto, em uma situação difícil de intolerância e não deu para avançar. Tempos depois, o encontrei escorado em um poste na calçada do colégio Capistrano de Abreu, no bairro do Benfica. Tentei falar com ele, mas não houve resposta. O cabelo preto liso, caído pela testa, já não era mais o mesmo que regia as fãs nos agitos da banda. Para mim, ficara cristalizada a noção de que o sonho de volta do grupo O Peso tinha acabado.
Enquanto isso, em São Paulo, o compositor e cantor Tiago Araripe lançava o LP Cabelos de Sansão (Lira Paulistana, 1982), disco que contou com a participação especial de boa parte da galera da música de vanguarda em São Paulo, como Itamar Assumpção, Tetê Espíndola, Vânia Bastos e Passoca. Tiago, juntamente com o baixista Bill Soares e o batera Xico Carlos, integrara até então a metade cearense do grupo Papa Poluição, ao lado de Paulinho Costa, Luis Penna e Beto Carrera. Antes, o artista cearense havia feito um compacto em parceria com Tom Zé, pela gravadora Continental. No lado A, Conto de fraldas (Tom Zé) e no lado B, Teu coração bate, o meu apanha (Tiago Araripe / Décio Pignatari). E a pulsão do pop-rock cearense seguiu a vibração das cordas do baixista Jorge Helder, do piano de Francisco Casaverde, da textura vocal do Lúcio Ricardo e de toda a energia criativa dos shows e dos discos de artistas cativantes e de estética própria, como as compositoras e cantoras Mona Gadêlha, Válerie Mesquita, Kátia Freitas e Karine Alexandrino.

Com o CD “Solteira Producta” (2002), Karine Alexandrino iniciou o desenho de um novo estilo no mapa da diversidade criativa da música no Ceará, ao misturar modulações híbridas da eletrônica com sentimentalismo retrô. Não conseguiu escapar da pressão do contexto e teve a irreverência reprimida. Na foto, a cantora em show que teve palco dividido com Kátia Freitas, Valerie Mesquita e Mona Gadêlha, produzido por Flávio Paiva no Parque do Cocó, em Fortaleza (1998).
A década de 1980 foi marcada na música plural cearense pela reaproximação do urbano com o mundo rural. Anos de retomada do processo democrático no Brasil e de grande qualidade na voz das cantigas. E o Quinteto Agreste, formado por Mário Mesquita, Marcílio Mendonça, Tony Maranhão, Ademir do Vale e Arlindo Araújo, enchia as praças de Fortaleza cantando Patativa do Assaré (1909 – 2002): “Sou o sertanejo que cansa / De votá, com esperança
Página 173 da publicação
/ Do Brasil ficá mió; / Mas o Brasil continua / Na cantiga da perua / Que é: pió, pió, pió…”. Em Além das Frentes (1986), Eugênio Leandro cantava “O jeito que Zé de Pedro arranjou / foi plantar flor no verão de manhã / Já que em frente cavada / não cresce um pé de algodão / Já que em terra de um só dono / não dá um pé de feijão”, jogando eco poético na questão da reforma agrária, trabalho que o levaria a dividir com Xangai, Renato Teixeira e Cida Moreira o CD Cantorias e Cantadores (Kuarup, 1997).
César Barreto celebra o Cego Aderaldo no LP Nordestinados (1980), parcerias com o poeta pernambucano Marcus Acioly; Pingo de Fortaleza lança Centauros e Canudos (1986), em reverência à saga do líder religioso e social cearense Antônio Conselheiro (1830 – 1897), Abidoral Jamacaru chega com o Avalon (1986) e sua cosmogonia caririense ; e Calé Alencar enfuna as velas do seu barco de composições com Um pé em cada porto (1989). Depois, Calé se transformaria também em um produtor de muito valor para o Ceará da música plural, ao trabalhar com estilos que variam do batuque a loas de maracatu, passando por coco, rap, samba, baião, calypso e Beatles. Um ponto de modulação nessa década foi o belo show Iracema Instrumental da Banda Officina no Theatro José de Alencar (1986). Eugênio Matos (teclados), Cristiano Pinho (guitarra), Roberto Stepheson (sax), Pantico Rocha (bateria) Nélio Costa (baixo) e Ocelo Mendonça (cello e flauta), deixaram esse legado de qualidade e de competência artística e técnica, antes de partirem para a consolidação de suas carreiras fora do Ceará.

A estilização preciosa da musicalidade da caatinga tem em Eugênio Leandro o seu principal compositor e cantor no Ceará. Na foto, o artista em dia de entrevista para o Um Jornal Sem Regras, quando apresentou as composições do LP “Além das Frentes”. Imagem de Jackson Araújo (1985).
Ao tentar organizar um pouco essas referências, mesmo sabendo que corro o risco imenso de cometer esquecimentos, reforço em mim o quanto o tesouro musical do Ceará está disperso. Tivéssemos uma política cultural estratégica, tudo isso estaria sistematizado e dinamizado para usufruto da população e como oferta cultural e turística. Temos o dom da pluralidade e da diversidade e esse é o tom do mundo que virá depois da hipermodernidade. Não há sentido deixar artistas significativos como o Adauto Oliveira e seu Trem dos Beradeiros (1992) para trás. Nem a Olga Ribeiro, com o América (1992) e o Pão e Poesia (1997), que produzimos juntos. Da mesma forma, não dá para fazer de conta que as sonoridades e temáticas do Fruto Futuro (1990), de Ronaldo Lopes, não existiram; ou que devemos seguir desperdiçando tudo o que um artista múltiplo como o Dilson Pinheiro pode nos oferecer com a sua genialidade. Nessas horas, escuto a Bússola, de David Duarte, na interpretação de Edmar Gonçalves: “Diz onde é que está / Será que a vida separou alguém / Em algum lugar / Pra caber nas suas medidas / Pra andar lado a lado na curva / Pra gostar das mesmas cores / Pra usar suas meias palavras / Pra dizer que não está entendendo o mundo”.

Calé Alencar canta no Espaço Rogaciano Leite Filho, do Centro Dragão do Mar, na noite de lançamento do CD Calé Alencar – 15 Anos 15 Loas + 1 Hino. Foto de Marina Cavalcante (2010).
É por isso que o admirável Abidoral Jamacaru soltou o verbo em Discurso, música que levou bons anos entre o momento em que foi composta e a data de gravação no CD Bárbara (2008): “Você diz que a sua idéia galopa veloz / porque a força da grana / virou seu corcel (…) Por isso você pensa, / que é só você que pensa (…) Eu escarro na sua retórica, / pois ela exala o odor do enxofre, / e a mim não engana! / Isso tá muito evidente (…) você me acua…eu lhe mostro os dentes! (…) / Se você pensa que eu sou maluco, / você pensou certo! / Isto é um jogo aberto, / eu não trago bandeira / a parte que eu gosto do abismo, é a beira!”. Em 1997, ele gravou no CD O Peixe, uma parceria nossa (Estrelas Riscantes) com a qual homenageamos todos os artistas que fazem arte por uma força maior do que as recompensas de mercado: “Pensando bem / bom motivo ninguém tinha / pra ficar a me esperar (…) E imerso no céu de estrelas riscantes / que não se foi / é bumba-boi, zabumba-boi (…) Meu coração tem a sã vocação de viver”.

A cantora Olga Ribeiro, com figurino de Bia Castro e bordado de Nice Firmeza, lança o LP América, produzido em parceria com Flávio Paiva, dentro das manifestações artísticas críticas aos 500 Anos do continente encontrado. Foto de Maurício Albano (1992).
Assim como Tiago Araripe, o guitarrista Fernando Catatau decidiu escapar da imobilidade estética imposta pelo grupo da dor, da tristeza e da depressão à música no Ceará e passou a recombinar os códigos da nossa diversidade criativa musical. Sobre o que percebia nos primeiros anos do seu trabalho e no destino
Página 174 da publicação
da sua banda, ainda se formando com Zé Rian, Dustan Galas e Régis Damasceno na calçada do Bar da Silva, na Varjota, em Fortaleza, escrevi o seguinte: “O descompromisso com a busca de fórmulas de sucesso é uma característica reveladora da essência da banda Cidadão Instigado (…) A função da arte deixa de correr atrás do refrão artificializado, comumente perseguido pela turma do topa-tudo-por-dinheiro, para encontrar um sentido mais precioso, mais essencial ao prazer estético” (Contadores de histórias, Caderno Vida & Arte, p. 8, O Povo, 25/04/2000).
O desenrolar dos fatos provou que Catatau tinha razão por não se deixar intimidar, conseguindo “se livrar do complexo de inferioridade que aprisiona e retarda a ascensão de novos talentos da nossa música, tão rica em seus contrastes e tão cheia de valores individuais” (idem). Tanto que optou pelo relacionamento mais estreito com o pessoal do Mundo Livre S/A e de outros grupos pernambucanos, tipo o Mestre Ambrósio, do Siba, e o Nação Zumbi, de Chico Science, que, combinando rock, cavalo marinho, maracatu e ritmos de forró conquistaram evidência nacional no guarda-chuva do movimento Manguebeat. A banda Cidadão Instigado passou a destacar-se pelas sonoridades experimentais de rock e música nordestina. E a Cidadão Instigado (Fernando Catatau, Regis Damasceno, Rian Batista, Samuca e Clayton Martins)

Abidoral Jamacaru é um cantautor que se exprime como um pássaro, cujo trinado ecoa para além da Chapada do Araripe em busca dos horizontes perdidos da sã vocação de viver. Foto de Flávio Paiva (1997).
avançou para ser a mais destacada banda cearense com ponto de apoio em São Paulo, cidade que assumiu o lugar do Rio de Janeiro como maior centro propulsor da velha e da nova indústria cultural no Brasil. Catatau tornou-se um dos mais requisitados guitarristas e produtor musical de artistas como Karina Buhr, Arnaldo Antunes, Otto, Siba e o ex-Mutante Arnaldo Baptista.

Fernando Catatau, líder da banda Cidadão Instigado, passou a ser um dos mais requisitados guitarristas da nova cena da Música Plural Brasileira, com suas combinações de poderosas melodias e ritmos. Foto de divulgação do show “Fernando Catatau ao Vivo”, no projeto Instrumental Sesc Brasil (2010).
O Ceará da música plural é um Ceará lúdico em sua arqueologia sonora e poética. Em toda a minha vida senti isso e, em decorrência desse sentimento, sempre procurei aproximar os trabalhos que faço envolvendo música com o universo infantil. Daí os CDs Rolimã e o Terra do Nunca. Quando o Lucas, meu primeiro filho, nasceu, compus dez cantigas para acolhê-lo, algumas delas em parcerias com João Monteiro Vasconcelos e Tarcísio Sardinha, todas gravadas pela maravilhosa cantora Olga Ribeiro (Samba-le-lê, 1999). Dois anos depois, foi a vez de receber o Artur, meu segundo filho, e repeti o gesto, compondo outra dezena de canções, uma ou outra em parcerias com Alberto Lima, João Monteiro Vasconcelos e Ângela Linhares. E não parei mais de ter vontade de compor músicas infantis e infantojuvenis para eles, para dar de presente ou para integrar a trilha sonora das histórias dos livros que passei a escrever, combinando literatura com música. Essa é uma contribuição de MPB Infantil que procuro dar à nossa pluralidade musical.

Com um conceito estruturado de MPB Infantil, Flávio Paiva lançou o CD Samba-le-lê, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar, com interpretação da cantora Olga Ribeiro (1999).

Em um País farto de bons violonistas, o cearense Nonato Luiz conquistou lugar de destaque nacional pela pulsação que imprime ao seu instrumento, somando paixão, agilidade, apuro técnico e tino inventivo com toque sedutor, arrojado e único. Foto publicada no folder do Projeto Sexta com Arte, do Sindicato dos Jornalistas do Ceará (1996).
A música no Ceará sempre esteve adiantada no tempo, por estar permanentemente em diálogo com seu contexto antropofágico e fornecendo inúmeras versões do que somos e dos elementos que transitam pelo nosso inconsciente coletivo. A nossa música não é senão o sentido dos outros em nós e, de como dotados desse sentimento, temos acesso a nós mesmos. Assim, quando o bandolim é do Macaúba, do Jorge ou da Dona Mazé, o choro é cearense. Não é diferente com o violão do Tarcísio Sardinha, do Nonato Luís, do Manassés, do Zivaldo, do Marcos Maia, do Zé Menezes, do Celinho Barros, do Marcílio Homem, do Cainã Cavalcante ou do Francisco Soares (1905 – 1986). Música nova no Ceará é música que não se ouviu ainda e o resto é reinvenção da nossa alma constantemente disponível em seu vagar entre miudinho, batuque, xote, maxixe, xaxado, balanceio, baião, ligeira, coco, reggae, rock, aboios, repentes, benditos, ladainhas, loas de maracatu, dobrados, marchinhas, boleros, torém e o que a nossa dinâmica história cultural teimar de inventar e adotar.
Temos, portanto, um tesouro musical praticamente inédito, no sentido de ser pouco conhecido em sua multiplicidade e complexidade; um acervo precioso e pronto para ser descoberto, apreciado, reutilizado e ressignificado. O mapa da mina tem uma senha, que é não tratar esse repertório cultural como coisa do passado, mas como cobiçados recursos renováveis de um patrimônio imaterial indispensável a qualquer perspectiva de desenvolvimento econômico e social. Movimentar essa engrenagem enferrujada pela maresia do descaso e pelos rumores táticos da mediocridade, para adequá-la em seus pontos de convergência e discrepância à dinâmica dos bits e bytes, pode causar ruídos e emperramentos, mas vale a pena. As relíquias do Ceará da música plural precisam ser cultuadas e apropriadas em seu conjunto pela cearensidade, simplesmente porque fazem parte da sua essência e do seu potencial culturalmente edificante e socialmente transformador.
Flávio Paiva é jornalista, colunista semanal do Diário do Nordeste e autor, dentre outros, dos livros/cds Flor de Maravilha, Bendito Bacurau, A Festa do Saci e A Casa do Meu Melhor Amigo (todos editados pela Cortez Editora), nos quais combina literatura e música. www.flaviopaiva.com.br
